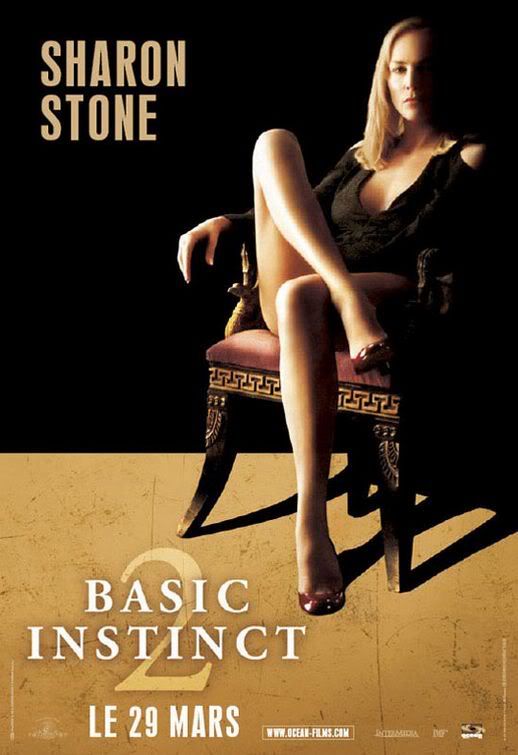MÁQUINA ZERO (2005), de Sam Mendes

A figura do
Marine (ou fuzileiro norte-americano, se preferirem) constitui uma presença marcante do panorama cinematográfico dos EUA. Durante mais de cinco décadas de filmes de guerra, pudemos acompanhar o horror, o sofrimento e a angústia do soldado nos campos de batalha, e o incremento do realismo sensorial, neste género de película, proporcionado pela abundância de projécteis, sangue e fumo, tem contribuindo para o aumento da excitação dos espectadores durante a sua projecção.
Perante este cenário, é então que surge este MÁQUINA ZERO (
JARHEAD, no original), uma espécie de objecto não-identificado na história do cinema bélico, e que, para o qual, não sou capaz de recordar outro título homónimo no que se refere à similaridade de temática. É um facto que conseguimos sentir o tal horror, sofrimento e angústia do soldado — no presente caso, durante a Guerra do Golfo, em 1990; contudo, nunca testemunhamos uma única sequência de batalha que justifique esses estados de espírito. Este é um filme que aborda a faceta do indivíduo treinado e manipulado para a guerra, chamado a cumprir serviço num conflito de grande escala e, quando a rendição dos vencidos é consumada, conforma-se com a realidade de nunca ter desfrutado da oportunidade de aplicar, na prática, todo o "frenesim assassino" que lhe foi incutido pelo sargento de instrução. MÁQUINA ZERO é, portanto, a descrição do tédio e do stress de soldados destacados para o deserto (onde permanecem durante mais de 170 dias sem "cheirar" o desenrolar dos acontecimentos), sofrendo as consequências negativas da imobilidade, presenciando os rastos de quem realmente disputou o conflito armado e arrecandando os traumas impostos pelos próprios defeitos humanos em contexto de guerra.

Anthony Swofford (Jake Gyllenhall) ingressa nos
Marines — apesar do seu real intento de enveredar por uma carreira universitária — e, terminado o período de recruta, é alistado para, nas palavras do seu tenente-coronel Kazinski (Chris Cooper), «
defender os poços de petróleos dos nossos amigos
sauditas das investidas iraquianas». Apesar dos elevados níveis de sede de combate, os soldados nunca são chamados à
real action. Ao invés, passam os dias ocupados em lúdicas e repetidas actividades, tais como: desmontar, limpar e voltar a montar a arma; partilhar históras de aventuras sexuais; masturbação; organizar combates de escorpiões, entre outras. E, quando são, finalmente, impelidos a agir, a burocracia e o desejo de uma rápida conclusão para a campanha militar frustram as suas hipóteses de, no mínimo, pressionar o gatilho. Essa frustração, mesmo com a passagem dos anos, nunca se desvanece. Tal como Swofford afirma no melodramático final, «
Continuamos todos no deserto».
No cômputo geral, MÁQUINA ZERO é um filme ambíguo em vários aspectos, o que resulta numa árdua "catalogação" do mesmo. Não se trata de um panfleto anti-guerra, apesar das várias sequências que denunciam os infames danos colaterais de um conflito bélico; não é uma arma apontada à política mundial norte-americana, embora o tom de acusação seja, a espaços, bastante evidente; também não estamos perante um drama de guerra, semelhante ao excelente A BARREIRA INVISÍVEL (1998, Terrence Malick), não obstante a imensa densidade psicológica da narrativa; poderia, inclusive, pensar-se que este é um filme sobre a loucura da guerra, mas a vertigem da insanidade raramente surge nos procedimentos. Com tanta ambiguidade, é legítimo considerar MÁQUINA ZERO como uma obra onde predomina o vazio e a incoerência. Bem pelo contrário, é um produto constituído por várias camadas, cada uma perfeitamente sustentável e receptiva à interpretação que se quiser formular.

A interpretação que mais me ocorrre é apenas esta: Sam Mendes concebeu um mosaico de dramas humanos individuais — começando pelos do protagonista até aos das personagens secundárias — preponderados pelas características intrínsecas ao Homem, conduzidas ao extremo pelas condições extremas em que se encontram. Será redutor descrever o filme desta maneira, mas é esta a mensagem que mais transpira da bobina. E a subtileza das referências culturais utilizadas nesta obra aponta, claramente, nesse sentido: a sequência da projecção de APOCALYPSE NOW (1979, Francis Ford Coppola), nomeadamente a cena do ataque à aldeia, está carregada da mesma intensidade e anseio demonstrado pelos soldados que a assistem — isto é, a presença fulgurante dos sentimentos humanos mais inatos — e ainda é possível observar o acréscimo de motivos subjectivos — o poder do inconsciente no comportamento de um indivíduo — a uma película de estilo realista: o sonho de Swofford, ao som de
Something in the Way dos Nirvana, é do melhor do tipo que se criou recentemente.
Em nota de conclusão, não poderia deixar de sublinhar o desempenho de Peter Sarsgaard,, que rouba o filme com o seu
underacting, e o delicioso
cameo de Dennis Haysbert, encarnando a melhor "personagem-tipo" dos últimos anos...